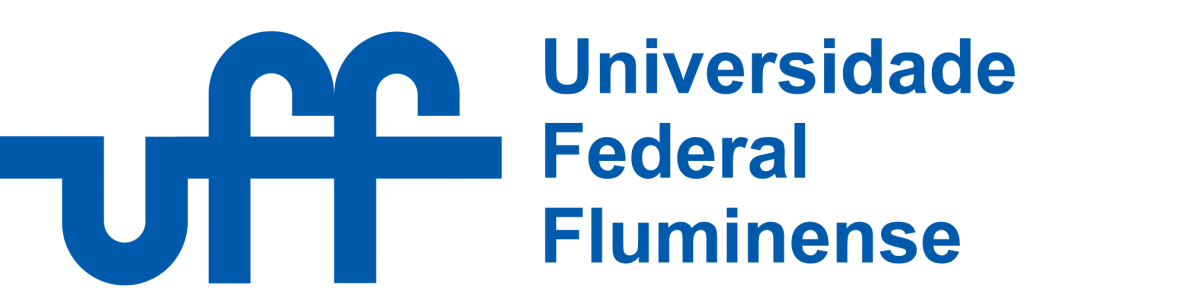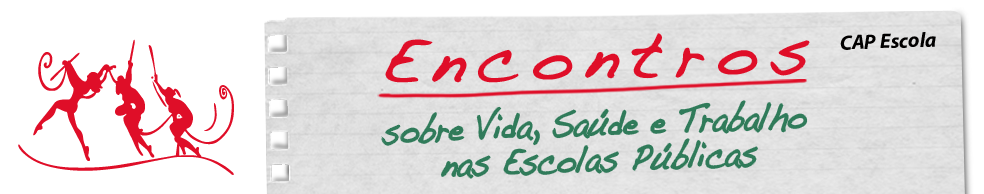Nossas Leituras
A tradição em que nos situamos é a materialista, na história humana. Aquela que vem de um longo percurso, passando por Demócrito e Epicuro (em suas diferenças, como demonstrou Marx em sua tese de doutorado), Lucrécio, alimentando-se com Spinoza, Marx, Nietzsche. Uma linhagem em que encontramos, dentre outros, no século XX, o filósofo-médico Georges Canguilhem (e sua filosofia da vida), quem em sua obra (por exemplo: O normal e o patológico. Rio de Janeiro:Forense, 7ª ed., 2011 )nos ajuda muito a entender o caráter ativo do viver (esforço contra a inércia), a capacidade normativa dos viventes (no caso dos humanos, sujeito de valores vitais) no debate empreendido com o meio, buscando em alguma medida torná-lo seu meio, recentrando-o.
Para compreender↔transformar neste campo que envolve o curso da vida, saúde e trabalho, nenhum saber isolado, nenhuma ciência sozinha dá conta da complexidade de suas relações. Menos ainda uma corrente de saber ou ciência específica. É preciso aceitar o desafio do diálogo entre os diferentes saberes (inclusive o daquele que experimenta seu corpo, ao trabalhar na escola, por exemplo), diferentes disciplinas científicas, e em seu interior, diferentes correntes e abordagens.
Em certa medida, a Ergonomia (A. Wisner. A inteligência no trabalho: textos selecionados de Ergonomia. São Paulo: Fundacentro, 1994; P. Falzon, org. Ergonomia. São Paulo: Blucher, 2007) – com seu poderoso princípio de adaptar o trabalho ao homem, vem se apresentando, desde o pós-guerra, como uma transdisciplina. Especialmente a Ergonomia da Atividade vem buscando operar com arte e êxito a melhor relação entre produtividade & qualidade com saúde & segurança, incorporando os protagonistas do trabalho na pesquisa-intervenção (F. Guérin et al. Compreender o trabalho para transformá-lo: a prática da Ergonomia. São Paulo: E. Blucher, 2001). Estamos vendo o amplo desenvolvimento de seu principal método – Análise Ergonômica do Trabalho (AET) e seu lugar singular entre as ciências (F. Daniellou, org. A Ergonomia em busca de seus princípios: debates epistemológicos. São Paulo: E. Blucher, 2004).
No mesmo período de desenvolvimento da Ergonomia da Atividade na França encontramos nos anos 60/70 o importante patrimônio desenvolvido pelo Movimento Operário de luta pela saúde na Itália. Seu intelectual mais destacado foi o médico e psicólogo Ivar Oddone. Em 1986 a Editora Hucitec (São Paulo) publicou o livro-manual intitulado Ambiente de Trabalho: a luta dos trabalhadores pela saúde, da autoria de Oddone e alguns de seus parceiros. Ao lado deste manual de cartografia de riscos no ambiente de trabalho, outro livro nunca publicado no Brasil até hoje se revela uma referência: Experiência Operária, Consciência de Classe e Psicologia do Trabalho (Einaudi, 1977), posteriormente publicado, não integralmente, na França (Messidor/ Eds. Sociales, 1981). Neste livro da autoria de Oddone, A. Re e G. Brianti, a experiência daquele/a que trabalha emerge com grande destaque, dando sustentação teórica, metodológica e técnica (como as “instruções ao sósia”) aos importantes esforços autogestionários do movimento operário daquele período, na Itália, exercitando uma nova relação entre “especialistas” e operários.
Na América Latina emerge a partir dos anos 70/80 um campo que vai ser denominado Saúde do Trabalhador, envolvendo uma outra maneira de compreender↔transformar a relação saúde-doença. Por exemplo, o livro de Asa Cristina Laurell e Marianno Noriega – dando visibilidade ao trabalho que desenvolviam no México – foi publicado no Brasil pela mesma editora (Hucitec, Coleção Saúde em Debate), 3 anos depois (1989) do livro de Oddone, denominado esclarecedoramente por Processo de Produção em Saúde: trabalho e desgaste operário. Suas conexões aparecem neste livro, quando no 2º capítulo a proposta do MOI é apresentada e criticada. Nesta mesma década diversos autores se destacaram, inclusive no Brasil, constituindo este campo denominado “Saúde do Trabalhador” (Gomez CM, Machado JMH, Pena PGL, org. Saúde do Trabalhador na Sociedade Brasileira Contemporânea. Rio de Janeiro: EdFiocruz, 2011; ).
Neste mesmo período, em 1986 um texto publicado no Brasil por Edith Selligmann-Silva, denominado “Crise Econômica, Trabalho e Saúde Mental” (in: Angerami-Camon et al. Crise, Trabalho e Saúde Mental no Brasil. São Paulo: Traço Ed.), consolida a presença no campo da Saúde do Trabalhador da questão da Saúde Mental – a que a autora denomina “Saúde Mental do Trabalho”. O texto apresenta não só as pesquisas que a autora e colaboradores vinham desenvolvendo desde o início dos anos 80 no DIESAT, como dá conhecimento para um amplo conjunto de questões e da literatura internacional atualizada e consistente. Em especial apresenta os importantes desenvolvimentos de pesquisadores chilenos sobre a Psicopatologia do Desemprego. Chamamos atenção de que os materiais que vêm desde o início do século passado na Alemanha, com H. Simon e a Ergoterapia (ou Terapia Hiperativa), em seguida na Espanha e França, com as experimentações de F. Tosquelles de Psicoterapia Institucional, colaboram para a emergência de uma nova disciplina denominada Psicopatologia do Trabalho (PPT), anunciada em 1949 por L. Le Guillant e P. Sivadon (ver por ex., Escritos de Louis Le Guillant – da Ergoterapia à Psicopatologia do Trabalho. Petrópolis:Vozes, 2006). A partir da questão da (im)possibilidade do trabalho para pessoas com transtornos mentais graves, das experimentações por estes psiquiatras durante e após a segunda Guerra, ficou para eles evidente em período de paz que haviam fortes relações entre trabalho e adoecimento psíquico. Uma das vertentes da PPT, liderada por Christophe Dejours publica na França em 1980 as descobertas que seu grupo (AOCIP) chegara, com base no resultados de suas pesquisas nos anos anteriores. Este livro é publicado no Brasil após o texto de Selligmann-Silva, em 1987, com o título Loucura do Trabalho: um estudo de Psicopatologia do Trabalho (São Paulo: Oboré/Cortez). Esta abordagem vem se desenvolvendo de modo fértil e tem encontrado importante escuta no Brasil, com vários livros do autor já publicados entre nós (por ex., os livros: O Fator Humano. Rio de Janeiro: FGV, 1997; A Banalização da Injustiça Social. Rio de Janeiro: FGV, 1999; Suicídio: O que fazer? Brasília: Paralelo 15, 2011; assim como a coletânea Christophe Dejours: da Psicopatologia à Psicodinâmica. Rio de Janeiro/Brasília: Ed. Fiocruz/Paralelo 15), ou por publicar (como Trabalho Vivo I e II, ambos publicados em Paris pela editora Payot em 2009).
Outra abordagem no interior da Clínica do Trabalho se desenvolve na segunda metade dos anos 90, tendo como principal autor Yves Clot, engendrando uma Psicologia da Ação articulada a uma “Clínica da Atividade”. Dois de seus livros foram publicados no Brasil: A Função Psicológica do Trabalho. Petrópolis: Vozes, 2006; e Trabalho e Poder de Agir. Belo Horizonte: Fabrefactum, 2010). Nesta abordagem vê-se uma fértil utilização da Psicologia de Vigotski para o mundo dos adultos no trabalho (conceitos de atividade, zona de desenvolvimento proximal etc.), assim como, com Daniel Faïta (pesquisador da produção linguageira no trabalho), mobilizam a obra do estudioso da ideologia, M. Bakhtin (como os conceitos de dialogia, gênero e estilo) e a resgatam a partir da Ergonomia e do MOI o princípio da confrontação, dele explorando especialmente a técnica das “Instruções ao Sósia” e desenvolvendo a “Autoconfrontação Cruzada”.
Com a orientação geral da perspectiva ergológica, temos buscado organizar uma caixa de ferramentas teórico-metodológica-técnica, especialmente mobilizando a Ergonomia da Atividade, a Psicodinâmica do Trabalho e a Clínica da Atividade, assim como a Sociologia das Relações de Gênero, e com ela praticar formas de pesquisa-intervenção em cooperação com os protagonistas do trabalho em análise (exercitando o que a Ergologia denomina Dispositivo Dinâmico de 3 Polos, do qual o dispositivo que denominamos CAP – Comunidade Ampliada de Pesquisa, na qual circula uma comunidade dialógica – é uma configuração).
Embora não tenhamos desenvolvido como se faz necessário, todas as referências com as quais operamos dão destaque à produção linguageira, cada uma a seu modo. Estamos buscando uma modalidade de captação desta produção no próprio curso do trabalho, assim como a que possa emergir através do dispositivo “encontros sobre o trabalho”, quando pode-se falar tanto sobre o trabalho, quanto sobre o que se venha a conversar sobre a própria conversa. Neste caso os materiais de análise do discurso na linha da dialogia, aberto por Bakhtin e desenvolvido na França por D. Faita, no Brasil por Maristela França (Uma Comunidade Dialógica de Pesquisa: atividade e discurso em guichê hospitalar. São Paulo: Fapesp/Educ, 2007) e outros, registram nosso horizonte de análise destes materiais.
Hoje, buscamos no campo das Ciências Sociais fazer uso, dentre outros, da produção do sociólogo Philippe Zarifian (Objetivo competência: por uma nova lógica. São Paulo: Atlas, 2001; Modelo da Competência: trajetória histórica, desafios atuais e propostas. São Paulo: Senac, 2003. Em francês, dentre muitos outros de sua autoria, destacamos Para que serve o trabalho? Paris: La Dispute, 2003), especialmente no que tange ao debate envolvendo a busca de produtividade & qualidade em uma perspectiva não subordinada ao mercado, via modelo da competência e da relação de serviço. Como achamos que as relações sociais de classe não são suficientes para compreender o que está em curso, muito valorizamos a corrente sociológica onde se encontra a produção liderada por Danielle Kergoat e Helena Hirata (ver desde Kartchevsky-Bulport et al. O sexo do trabalho. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1986; a H. Hirata. Nova divisão sexual do trabalho? São Paulo: Boitempo, 2002; H. Hirata e N. Guimarães, orgs. Desemprego. São Paulo: Senac, 2006; H. Hitata et al., orgs. Mercado de trabalho e gênero. Rio de Janeiro: FGV, 2008). Ainda neste campo das Ciências sociais, destacamos ainda a produção de Danièle Linhart (A desmedida do Capital. São Paulo: Boitempo, 2007. Em francês temos, entre outros de seus livros: Por que trabalhamos? Paris: Erès, 2008).
Enfim, sobre o trabalho na escola, entendemos que é preciso compreender como esta instituição opera na sociedade capitalista.Um esforço, como o empreendido na França pelos sociólogos R. Establet – A escola capitalista na França (Madri: SigloXXI, 5ª ed., 1978) nos parece da maior importância. Neste sentido consideramos muito instigante o livro do economista Claudio Salm – Escola e Trabalho (São Paulo: Brasilense, 1980) – colocando em análise a efetiva importância da escola no Brasil, malgrado o sistemático e reiterado discurso de pesquisadores, governantes e grandes empresários (como Ermírio de Moraes etc.) sobre o que seria a incontornável importância da escola para o desenvolvimento capitalista, na América Latina e no Brasil (ver documentos da CEPAL, como: Transformación productiva con equidad. Santiago, 1990 e CEPAL/UNESCO. Educación y conocimiento: Eje de la transformación productiva con equidad. Santiago, 1992.) Para Salm, no Brasil, até aquele momento o processo de produção capitalista podia operar sem trabalhadores qualificados via rede escolar. O vínculo da escola com a produção tinha exclusivo caráter ideológico, reproduzindo as relações sociais capitalistas. Contrapondo-se essa tese, G. Frigotto (A produtividade da escola improdutiva. São Paulo: Cortez, 1984) entende que a escola não está desvinculada do sistema produtivo, contudo com ele não mantém uma relação direta. Em sua argumentação, a escola tem um papel de mediação, podendo constituir-se em campo de negação das relações sociais de produção hegemônicas. Se a escola é imediatamente improdutiva, ela é mediatamente produtiva, como assinala D. Saviani (2004). As lutas daí se darão em torno da educação como direito de cidadania. Neste mesmo período pouco se produziu sobre as relações entre trabalho e educação na realidade brasileira, daí destacamos as pesquisas de A. Kuenzer (publicada no livro Pedagogia da Fábrica. 1984) e de M. Athayde (Processo Produtivo, Espaço Educativo: um campo de lutas. Mestrado em Educação de Adultos, UFPb, 1988). Enfim, trata-se de compreender que o próprio trabalho pode ter um caráter educativo e transformador, como o mesmo autor desenvolveu em seguida (Gestão de coletivos de trabalho e modernidade. Doutorado em Engenharia de Produção/Ergonomia, COPPE/UFRJ, 1996). Encontramos assim um debate sobre polivalência ou politecnia, qualificação ou competência, podendo-se indagar se cabe apenas ou/ou, quem sabe e/e?
Enfim, destacamos um quadro no Brasil em que a escola foi se tornando pública e mantendo-se gratuita no mesmo movimento em que as condições de trabalho e de financiamento se degradam e precarizam. Neste contexto verifica-se evidentemente os crescentes esforços dos trabalhadores de escola para desviar do adoecimento, esforços estes que cobram um preço a médio e longo prazos, especialmente quando da proximidade da aposentadoria, cujo tempo de serviço e idade são sempre apresentados como privilégio pelos eventuais operadores do poder de Estado (muitas vezes os mesmos que quando na oposição declaravam-se críticos do capitalismo e defensores de direitos como este). Com frequência esses trabalhadores pedem que seu adoecimento seja monetizado, trocado por alguma quantia na forma de compensação. Com frequência as alternativas se apresentam na forma de uma clínica individual, na defesa daquele trabalhador cuja problemática seja configurável objetivamente para o diagnóstico e em que o nexo causal seja indiscutível (casos raros). Ou seja, uma clínica do trabalho que defenda os ofícios que fazem a escola em relação às diversas formas de violência a que eles vêm sendo submetidos, são ainda exceção. Nós nos colocamos nesta perspectiva de que simultâneo às formas de proteção ao trabalhador já atingido, se desenvolvam não só formas de prevenção, como do que denominamos (E Silva, J Brito, MY Neves e M Athayde), em um artigo da revista Interface- Comunicação, Saúde, Educação (v.13, n.30, p. 107-19, 2009), “A promoção da saúde a partir das situações de trabalho”.